SHN 25
Vinte e cinco anos de arte, amizade e resistência gráfica

Originário de Americana, no interior de São Paulo, o SHN é um dos coletivos mais influentes e prolíficos da street art brasileira. Desde o final dos anos 1990, seu trabalho ocupa ruas, galerias e imaginários com uma estética direta e simbólica — stickers, pôsteres e ícones que se repetem até se tornarem parte da paisagem.
Formado por amigos que cresceram entre o skate, o hardcore e a cultura do “faça você mesmo”, o grupo ajudou a redefinir o que entendemos como arte pública, transformando o simples ato de colar um cartaz em uma declaração de presença e comunidade.
Agora, celebrando 25 anos de trajetória, o SHN acaba de lançar um documentário e apresenta na próxima semana um livro, feito em parceria com o estúdio de design Colletivo — uma obra que reúne mais de duas décadas de criações, registros e colaborações com artistas do Brasil e do mundo. Mais do que um arquivo, o livro funciona como manifesto: sobre o poder da coletividade, do fazer à mão e da persistência em seguir criando.
Nesta entrevista, Haroldo Paranhos, um dos fundadores do SHN, revisita um pouco da história e dos bastidores desse novo ciclo, das primeiras colagens às campanhas em massa, do amor pelo papel à necessidade de registrar o efêmero. Um papo sobre arte, amizade e o impulso de continuar criando e espalhando a mensagem num mundo que muda cada vez mais rápido.
O SHN completou 25 anos em 2025 — quando você olha para trás, qual a primeira imagem ou memória que te vem à mente dessa trajetória?
Não lembro de não estar fazendo isso, sabe? Lembro de um monte de moleque, skate, hardcore punk, querendo armar uma fita pra ficar junto. Essas ideias pra se juntar foram ganhando estrutura aos poucos, sem muito plano — só vontade de fazer. E quando vê, já se passaram 25 anos. Passa muito rápido.
Foi algo mais natural então, a ideia de se juntar com os amigos e formar um coletivo?
A palavra coletivo veio depois. No começo, a gente nem usava o termo — só queria fazer junto. Parecia mais uma banda de arte: um canta, outro toca, outro desenha.
A estrutura vinha muito do skate. No skate, quando alguém acerta uma manobra, todo mundo comemora. E, quando aparece um dinheiro, o cara compra uma tubaína e divide com geral.
A gente trouxe esse espírito pra tudo: dividir o que tem, celebrar a conquista do outro. Vem desse universo do hardcore, de fazer show, gravar fita, fazer cartaz. Sempre teve esse valor da conquista coletiva — juntar uma turma pra comemorar uma manobra.

O que é mais desafiador e o que é mais potente no trabalho coletivo?
Dividir tudo igual — dinheiro, ideia, papel, plano. Isso coloca responsabilidade real em cada um e faz todo mundo pôr a mão na massa. Vem muito do nosso ethos punk/escambo: troca, colaboração, conquistas, vitória compartilhada.
O desafio é que, nas baixas (grana, emocional, família), pinta a comparação — “quem fez mais, quem fez menos”. Nessa hora, a gente escolhe não olhar pro lado e lembrar do investimento de longo prazo que construímos juntos.
No fim, é isso: o mais potente é dividir, e o mais desafiador também. Confiança, amizade e memória mantêm a gente de pé.
Você falou sobre conquistas e vitórias. Você ter, no mesmo ano, um documentário lançado e um livro saindo do forno celebrando toda a trajetória do SHN é uma baita conquista, né, cara? Como que vocês estão recebendo isso?
A gente tá tão dentro do furacão que é difícil ter noção do impacto. É tipo estar no palco: você não vê tudo que acontece, mas sente a energia voltando.
Esse livro é um sonho antigo, de uns sete anos. Lá por 2018, antes da pandemia, a gente começou a se perguntar: “Como explicar pro mundo quem a gente é?”. Já fazia quase 20 anos que trabalhávamos juntos e ainda precisávamos nos apresentar o tempo todo — pra galeria, festival, cliente, museu. Era frustrante.
Daí veio a ideia de fazer um inventário — levantar tudo o que produzimos desde o começo. Abrimos pastas, reviramos HDs, fotos, revistas, anotações. Foram mais de 1.600 trabalhos catalogados. Queríamos entender o que atravessa nossa história, e percebemos que o maior valor do SHN são as conexões: gente diferente se cruzando, ideias se misturando.
Durante a pandemia mergulhamos nisso e vimos que precisávamos registrar direito, do nosso jeito. Fazer algo que durasse — não um post, não um arquivo em PDF que some. Um objeto físico, feito pra ficar. Aí chamamos parceiros próximos, como o Marcelão (Marcelo Roncatti, do estúdio de design Colletivo), que desde o início acompanhou nossa trajetória.
O livro nasce desse processo coletivo, construído usando a metodologia MESA, todo mundo junto, decidindo tudo em tempo real. Em uma semana trancados, o projeto tomou forma. Depois disso, ainda rolou uma longa espera até perceber que o melhor caminho era fazer nós por nós. Foram anos de tentativa de patrocínio até decidir bancar na raça — e aí, quando a gente colocou o projeto pra andar, os apoios começaram a aparecer: o selo Vegas, lá de Americana, o Licor 43 e o Luan, do Na Lata Festival, que é parceiro de longa data.
Foi correria pura, mas quando você pega o livro na mão, dá aquele choque: “caralho, a gente conseguiu”. É o tipo de conquista que te lembra por que começou e te dá vontade de continuar.

Pô, legal demais. É o tipo de coisa que renova a energia, né?
Olho pra ele e me sinto inspirado, como se fosse eu mesmo me xavecando pra continuar. É emocionante!
É aquele valor que vem da infância — fazer o que gosta, do jeito que acredita — e perceber que, tantos anos depois, você ainda tá fazendo. O coração bate forte.
E tem o lance do papel, da impressão e da reprodução em série do livro que de certa forma tem tudo a ver com tudo que vocês sempre fizeram.
Total. Eu cresci cheirando papel. Se gasto dinheiro com alguma coisa, é com livro — comprar, estudar, folhear, pegar na mão. Pra mim, lançar um livro é como uma banda lançar um disco. É o poder do registro, de algo que vai ficar por muitos e muitos anos. Foi por isso que, entre o documentário e o livro, a gente escolheu primeiro focar no impresso: ele tem peso, atravessa o tempo.
Pega um livro de registros do Basquiat ou do Warhol — são obras de 40 anos atrás e continuam pulsando. A gente tá no meio desse mesmo furacão, de uma geração que viu tudo mudar muito rápido. E saber que, daqui a alguns anos, alguém pode estudar o que a gente fez como a gente estudou esses caras… É um sentimento foda.

Falando um pouco lá do início, lembro muito da época do Fotolog, daquele primeiro boom da street art por aqui, de artistas que não seguiam a escola do graffiti e eram mais ligados as artes gráficas e a cultura DIY — como o Stephan (Doitschinoff), Carlinhos (Carlos Dias), Farofa (Sesper) — e vocês, que sempre tiveram um trabalho que era minimalista e ao mesmo tempo impactante.
É, mano… Eu tenho muito dessa parada. Tudo isso que você falou, eu tô vendo um filme. Lembro muito dos stickers, que estão na minha vida desde moleque, em campeonato de skate, figurinha de álbum… Eu ia nos rolês pra ganhar adesivo. Quando a gente tinha uns 11 anos, eu e o Daniel — o pai dele tinha uma firma que fazia adesivo pra fábrica, tipo Freios Varga — a gente ia lá pegar e já ficava fazendo cagada, né? Somos amigos desde criança, desde os 11, 12. Sempre teve essa pira de desenhar.
A hora que começa o desenho, ele já vai pra um caráter de zine, de capa de disco. Muita inspiração do Farofa, do Carlinhos, do ET… Era o universo de banda: desenhar no camarim, fazer capa de fita, de CD. Essa relação com o desenho autoral veio junto com a banda — ver o trampo impresso me fazia sentir parte daquilo, tipo “eu também posso estar nesse palco”.
Aí começou a brisa do impresso: xerox, desenho à mão. Quando a internet chegou mais fácil, comecei a ver as referências gringas — tipo Faile, Obey, esses caras. Eu pirava nas soluções gráficas dos caras, misturando design e arte.
O grafite, na época, nunca foi tão próximo de mim. Achava de outro lugar, não conectava comigo que nem uma capa de disco, uma Chiclete com Banana (revista de quadrinhos underground dos anos 1980) sabe? Então fui mais pra essa linha de trampo.
Daí veio a ideia: “Vamos fazer um desenho que qualquer um consiga copiar”. O primeiro foi o da caveira. A galera arrancava todos os outros cartazes, menos esse. A gente olhou e falou: “Porra, funcionou”.


A caveira e o tridente, dois clássicos dos primórdios do SHN
Aí começamos a dar mais atenção pra isso. Vendo a galera de fora — blogs, forums como o Sticker Nation e o Wooster Collective —, a gente se inspirava muito com a liberdade que a street art dava. Era diferente do grafite, não tinha rótulo, nem apego.
A gente queria justamente isso: fazer algo simples, direto, fácil de espalhar. Não importa a qualidade — o importante era ser acessível, circular, colar em todo lugar.
E foi apaixonante, cara. A gente nunca saiu com 10 cartazes pra colar. Eram 200, 300, cerveja na mão, risada, madrugada. Uma diversão absurda — e o começo de tudo.
Outro fator marcante na atuação de vocês é a repetição e a ocupação massiva do espaço urbano. Para quem mora em São Paulo nas últimas duas décadas acredito que é praticamente impossível não ter sido impactado por alguma obra de vocês em algum momento da vida.
Era louco, porque a gente vivia numa batalha — tipo, “será que amanhã a cidade ainda vai estar tomada ou vão arrancar tudo?”. Mas, mano, foda-se, vambora.
Com o tempo, a escala cresceu muito. Sempre fizemos muito cartaz e adesivo — o da caveira, por exemplo, deve ter passado de um milhão. A gente chama de “campanha” quando um desenho dá certo: você cola 100, 200 na rua, e de repente vê a galera tirando foto, comentando, mandando de volta. Aí você continua, não para: faz 200, 300, 500. O tridente, a caveira, o caixão — alguns já são milhares e milhares. Fecha um trampo comercial? Já mete junto no rolo e imprime mais.
Aí vira obsessão. Quer resolver uma arte com uma cor só pra poder rodar 500 a mais. É o prazer de espalhar, de ver aquilo vivo na rua.

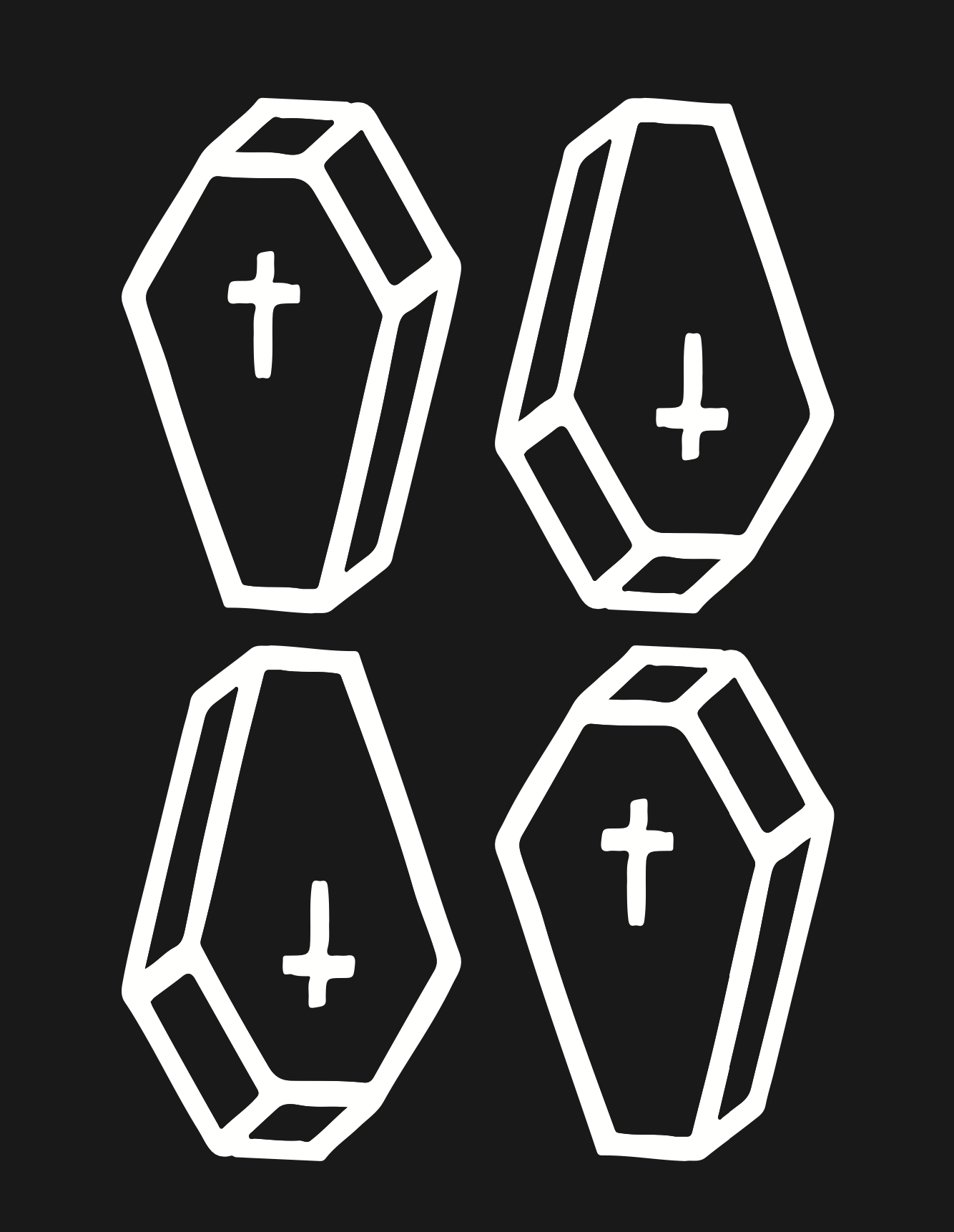
Imprime, imprime, imprime, espalha, espalha, espalha - até fora do Brasil
E na cena de stickers e posters sempre rolou um intercâmbio forte entre artistas, galera de outros países, né?
Total. A gente vem dessa escola de trocar carta com banda, fita demo, flyer — e o sticker e o pôster mantêm esse espírito. É sobre fazer, mandar, espalhar e criar conexão.
Hoje tem festivais de colagem no mundo todo, e a gente continua mandando material. Quem gosta de papel é nóia de papel, né? Junta tudo, guarda tudo — meio acumulador mesmo (risos).
Sempre tivemos essa brisa de “vamos fazer 1 milhão e sair colando”. É um vício bom. E o maior prazer de tudo isso, pra mim, é olhar pra trás e ver o tanto de coisa feita.


Stickers que viram pinturas em telas do SHN
Recentemente tive uma filha — ela está com um ano e oito meses — e isso muda a relação com o tempo. Você entende o valor dos registros.
O filme carrega uma emoção mais crua; o livro, um olhar mais técnico. Mas os dois têm essa mesma vontade: guardar o que a rua leva, deixar a história viva.
Aproveitando a deixa, o que o livro traz de diferente em relação ao documentário?
Desde o começo, o SHN entendia que, por ser street art, o registro era parte essencial do trabalho — o jeito de preservar algo que, por natureza, desaparece. Sempre tivemos essa preocupação de documentar tudo: o lugar, o tempo, o contexto em que a arte aconteceu.
Com o tempo, fomos acumulando um acervo enorme. Quando o YouTube e o Instagram chegaram, já tínhamos muito material — e vários amigos se dispuseram a ajudar no documentário. Mas, quando viram o volume, todo mundo entendeu que não dava pra fazer no amor, sem estrutura. Entramos num edital, ganhamos e decidimos dividir entre equipamento, produção e mão de obra.
Enquanto o doc nascia, o livro já estava em andamento — e ele tinha outra pegada. É mais técnico, mais analítico. Traduz cada projeto visualmente e contextualiza: mostra onde aconteceu, o que estava rolando ali, quem participou, por que aquele trabalho existiu.
Já o documentário é o oposto: é mais humano, mais próximo. É feito de conversas com amigos que viveram tudo isso com a gente, então é cheio de emoção, risada, lembrança. A gente queria que quem assistisse se sentisse parte do grupo — e deu certo. Tem lágrima, tem sorriso, tem história pra caramba.
Documentário Truco - SHN 25 Anos
Quando eu vejo os dois juntos, sinto que o livro é a obra e o filme é o encontro. O livro é aquele objeto que você pega na mão, guarda, revisita. O filme é o que você assiste com um amigo, tomando uma cerveja, lembrando das histórias por trás.
Essa é a essência da street art pra mim: quando eu via um adesivo do Farofa, do Stephan, do Carlos Dias, eu pensava “caralho, achei um tesouro”. Era uma arte que estava perto, acessível — não uma peça intocável dentro de uma galeria branca.
E o mais bonito é isso: se você acha que está tosco, vai lá e faz melhor. A rua é aberta.
O livro carrega esse mesmo espírito: o registro do tempo, o mapa da caminhada. Nas Páginas Amarelas, dá pra ver tudo — exposição no MASP, trampo no Memorial da América Latina, capas de disco, gravuras pra mais de 300 artistas, exposições com mais de 200.
Não é só a história do SHN — é a história das pessoas e lugares que cruzaram o nosso caminho. Do cartaz de festa junina ao trabalho com a Swoon, passando pelo reggae, eletrônico, rock.
Até os trabalhos comerciais entram nessa lógica: são parte da cultura pop, do nosso jeito de sustentar a arte sem perder a verdade. Quer coisa mais pop art do que um trampo que te permite continuar sendo artista? Pra mim, é isso: honestidade, colaboração e troca.


Intervenções artísticas do SHN no QG do Facebook
No fim das contas, o que fica é simples — o mais gostoso da vida é conhecer pessoas e lugares. Se eu parar pra pensar, tudo o que a gente fez foi movido por isso. Cada trampo, cada parceria, cada viagem. É o que faz sentido, tá ligado?
Como é para você pegar o livro na mão e rever toda essa trajetória, ter hoje esse registro que não só documenta mas também eterniza a história de vocês?
Nesse momento, ainda tô no olho do furacão. Pensando em como lançar, pra quem entregar, onde assinar, como embalar… Nem consegui parar pra olhar o livro com calma. Tô curtindo o processo da produção, da mão na massa — aquele corre de pensar: “vamos armar o lançamento no Rio? vamos!”.
Acho que só vou entender o peso real do livro quando ele começar a chegar nas mãos das pessoas e, em conversas inesperadas, surgirem as respostas.
Essa história de amizade, confiança e resistência no mundão, a gente só percebe de verdade quando segura o livro.
No fim, parece que a próxima batalha, tipo organizar a festa de lançamento, é mais importante que o próprio livro.
Sim. E apesar do trabalho bizarro que deve ter sido organizar toda essa trajetória e material, deve ter sido um prazer enorme revisitar tudo isso: imagens, registros, memórias…
Foi demais. O tempo passa rápido e você começa a lembrar de tudo: os que já se foram, as fases, as mudanças. Teve o tempo em que o coletivo tinha sete pessoas, depois a hora em que todo mundo foi embora. Eu tô desde o começo — nem sabia o que era “coletivo”, eram só amigos fazendo uma fita juntos.
Aí você acaba revisitando a si mesmo. Por isso as Páginas Amarelas são tão importantes: a gente queria que quem passou pela história se encontrasse lá. “Porra, que da hora, colocaram aquele trampo que fiz no meu bar.”
O SHN sempre teve isso: vontade de dividir, de ter mais gente junto. O mais gostoso foi ver quanta gente passou por perto, quantos lugares a gente foi.
E dá uma vontade absurda de seguir. Tipo Juazeiro do Norte — nunca estaria na minha lista. Cheguei lá e chorei. O lugar é forte: o desenho, a fé, as imagens, o Brasil raiz e, ao mesmo tempo, poderoso. Você volta pensando: “Porra, que louco! Onde a gente vai agora?”.




Intercâmbio entre SHN e artistas locais do Juazeiro do Norte
Ver hoje um Planet Hemp lotando estádio, e pensar que os caras estão com você desde o começo… Você sente o poder de algo que ajudou a construir. É como ver um amigo acertar uma manobra, você olha para trás e pensa: “Nossa… Valeu!”
É muito legal isso, poder celebrar a conquista dos outros como se fosse sua.
Total, o mais louco é isso — estar perto de quem te inspira e te faz querer acordar mais cedo pra criar. Preenche o coração. É um grão de areia que pesa uma tonelada.
Tenho uma filha de um ano e oito meses — enlouquece, quero mostrar tudo: os amigos, a família, que existe amor no mundo, que ele não é só podre. Mostrar o poder de criar e tocar o coração. A arte faz isso — te faz chorar, ouvir, sentir.
Por isso “Obrigado, vida”. Porque você acorda, toma tombo, leva porrada, é difícil — mas é animal. Não tô pedindo nada, só agradecendo. E não é “gratiluz” piegas; era zoeira mesmo no começo. Acabou a tinta? “Obrigado, vida.” Deu errado? “Obrigado, vida.” Deu certo? Também.
A arte com cara de desenho de para-choque, letra de circo, de rodeio — forte, popular, acessível. O cara do pagode lê, o do reggae lê, a mina no bar tira foto. Hoje nossa base se chama Obrigado Vida — tem a ver com isso, com as novas vidas chegando, com a renovação.
Os públicos mudam, se renovam. Por isso seguimos produzindo gravuras, trampando com outros artistas, ensinando serigrafia — uma técnica milenar que ainda impressiona. Mostramos como é feito pra pessoa entender que nossos desenhos simples — infantis, icônicos — são um convite: “você também pode fazer”.
É sobre isso: mostrar que é possível. Como ver uma manobra e pensar “eu consigo”, ou ver uma banda punk e decidir montar a sua.
Então é isso: vamos continuar vivendo.

A rua mudou muito nesses 25 anos. O que vocês acham que mudou mais: a cidade ou o olhar das pessoas sobre a cidade?
Sou apaixonado pela velocidade da cidade — é a coisa mais orgânica que existe. Vivo a cidade como uma música: entra um beat, um prédio, uma ponte, um desvio. Sou formado em Arquitetura e Urbanismo e piro em arquitetura efêmera: o que dura pouco e molda a cidade. Um pôster na rua é como o carrinho de cachorro-quente na porta da escola: hoje está, amanhã não.
Por isso a ideia de pôster em massa. Como registrar minha ação num lugar tão avassalador? Desenho rápido, cor forte, repetir 200 vezes pro cara me encontrar no banheiro ou na rua. Gosto da velocidade — e gosto quando atropela, rasga, tagueia: aí faz sentido. Street art é para ir embora, não pra guardar.
Pra fechar, queria que você falasse um pouco sobre os próximos passos desses lançamentos e do coletivo.
Enquanto eu assinava as dedicatórias, separava fretes, organizava os envios de quem comprou na pré-venda, fui percebendo que ainda estou nesse modo de produção, sabe? Quero levar o livro pra vários lugares, entregar pra quem participou da caminhada, dar um abraço na galera. Esse é o plano agora.
Sobre a pré-venda: quando a gente decidiu fazer por conta própria, rolou a dúvida entre crowdfunding e pré-venda. Optamos pela pré-venda, mas de um jeito mais livre, como uma campanha. A ideia era dar cara de movimento, e não de “esperar vender pra fazer”. O livro já ia sair, de qualquer jeito. A pré-venda foi uma forma de deixar nossos amigos, especialmente quem fez parte dessa trajetória, comprarem por um preço mais acessível.
Agora estamos nos preparativos pros lançamentos. O primeiro vai ser na Base, lá em Americana — é onde fica o estoque e o espaço pra montar tudo. E o segundo lançamento vai ser no escritório do Colletivo, ali na Balsa. O livro marca 25 anos do SHN e também 20 anos do Colletivo, que tem uma história parecida com a nossa, sempre por perto desde o começo. A ideia dos lançamentos é isso: reunir a galera, misturar gente de vários lugares e celebrar.
Trabalhar com o coletivo foi massa demais. Eles entenderam de cara o nosso amor pelas imperfeições — as cores tortas, os fotolitos, as sobreposições erradas, o chapado que sai meio fora do registro. A gente sempre gostou disso. E foi muito gostoso ver como eles aplicaram isso no design, respeitando nosso jeito, abrindo espaço pra gente dar pitaco. “Ó, esse aqui não cola do lado desse”, “isso aqui eu nunca faria assim” — e eles ouviam. Essa troca deixou tudo mais autêntico.

O que mais me pegou foi o peso do livro, o papel, a textura, a impressão. Dá orgulho de ver o cuidado na forma como apresentaram os trabalhos, como pensaram a diagramação.
As fotos ali não são só registro, são composição — solução gráfica de cor, encaixe, ritmo. Eu tenho muito livro, sou viciado mesmo. Gosto de ver, folhear, sentir. Esse tem aquele prazer do design impresso, lembra até umas coisas meio David Carson, Ray Gun, aquele caos bonito que a gente via nas revistas dos anos 90. E tem os QR Codes também, o que é demais: hoje a gente lê com o celular na mão, e eles te levam pra vídeos no YouTube. Dá pra “viajar dentro do livro”, sair dele e continuar a experiência.
Agora tô mais focado em como levar o livro pra frente — onde mostrar, com quem conversar, quem abraçar nesse processo.
Deve rolar lançamento no Rio também, e tô pensando como fazer uns eventos menores — tipo banda mesmo: ir em cafés, galerias, espaços de amigos. Às vezes a gente pira em fazer algo grande, mas se aparecem 20 pessoas, já vale: são 20 pessoas realmente interessadas. É mais íntimo, mais gostoso.
Acho que o livro e o doc abrem portas. Aqueles moleques dos shows dos anos 90 hoje estão em todo lugar — rádio, TV, empresa, agência, arte. O livro pode reconectar essa rede, juntar de novo essa geração que cresceu junta pra fazer novos projetos, maiores, com mais estrutura. Trabalhar com esses amigos de novo, agora mais maduros, é o que mais me empolga. Obrigado, Vida!

O livro SHN25 já tem dois lançamentos oficiais divulgados, o primeiro em Americana na Base Obrigado Vida e o segundo no QG do Estúdio Colletivo em São Paulo, então se você se interessou pelo livro é uma oportunidade de comprar direto das mãos dos caras por um preço especial, ganhar aquela dedicatória e ainda dar um abraço nos caras pessoalmente.
Lançamento do livro SHN25
Em Americana: 17/10
R. Silvino Bonassi, 840
A partir das 16h
Em São Paulo: 18/10
R. Capitão Salomão, 26 - 3º andar
A partir das 13h



