Diogo Queiroz é um operário da música underground
Um papo com o produtor cultural que movimenta o underground da música eletrônica em Duque de Caxias, e cada vez mais, no país e no mundo inteiro

Hoje em dia se fala muito sobre a noite estar morrendo, o underground estar em crise e pouco sobre quem está fazendo a parada acontecer. Se você acompanha o rolê de grime aqui no Brasil, provavelmente já ouviu falar da festa Exportação, ou da Leigo Records, ou da Speedtest, ou do Jamaicaxias, ou da Waves.
Por trás de todos esses projetos, tem uma figura que é essencial para que eles funcionem da forma que funcionam — Diogo Queiroz, produtor cultural nascido e criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
A sua trajetória é acompanhada do crescimento da cena eletrônica underground, e sua presença foi, e segue sendo, determinante para o desenvolvimento dela. Ao lado de ANTCONSTANTINO e Wander Scheeffër, Diogo pega os ensinamentos desde a época do hardcore para construir uma comunidade fiel e respeitosa, mantendo o underground vivo.
Trocamos uma ideia sobre todas as festas que ele organiza, sobre essa relação com a noite, as dificuldades e as coisas boas que tão por trás. De quebra, pedi para ele separar alguns dos flyers favoritos dele para ilustrar a matéria. Se liga no papo!
Queria começar falando um pouco sobre o começo da sua trajetória no rolê musical, e como ela foi se transformando até chegar nos dias de hoje. Como tudo começou?
Aqui em Caxias sempre teve uma cena de rock muito forte. O meu irmão sempre tocou em banda desde que eu era criança, e ele sempre esteve dentro da cena de metal, de hardcore. Através dele, eu comecei a conhecer as bandas underground e quando eu era adolescente, já ouvia mais banda underground do que mainstream — meu fone já tava tocando as paradas daqui, e não as gringas.
Eu sempre fui muito interessado pela cena, e comecei a frequentar os eventos da produtora Tomarock. Dentro desses eventos, eu conheci o ANTCONSTANTINO e, por causa do hardcore, a gente virou amigo. Um dia, ele me fez um convite pra trampar num desses eventos de rock — era um evento de banda cover de Halloween, lá em 2013 — e a partir disso, eu acabei ficando na produtora. Fiquei por muitos anos na Tomarock Produções, com o Luciano Paz, que é o dono, e a Suelen, que é esposa e sócia dele.
Por volta de 2014/2015, a gente começou a frequentar outras cenas fora do rock — eu permaneci mais no hardcore, o Antônio já começou a se afastar um pouco mais e começou a me apresentar as cenas de bass music carioca, a cena de rap. Em 2015, a gente decidiu fazer a nossa primeira festa, a Waves — eu, o ANTCONSTANTINO e o Luciano Paz, no começo, e já na segunda edição o Paz saiu e ficou só nós dois. A gente começou a nossa parceria daí.

A gente fez a Waves durante dois anos, de 2015 até 2017. Dentro da Waves, a gente fez diversos produtores e DJs da cena do Rio e do Brasil. A gente trouxe o Maffalda, Evehive, KENYA20HZ , diniBoy — diversos grandes DJs hoje, que tocaram com a gente nessa época. Nectar Gang foi um que se apresentou com a gente. E a gente sempre tava ali produzindo coisas, misturando música eletrônica com rap, com hardcore — o ANTCONSTANTINO principalmente.
Depois a gente acabou se afastando, essa festa acabou e a gente foi voltar a fazer coisa juntos em 2021, que é quando dá o grande boom da parada. Eu ainda tava na Tomarock, e ali no finalzinho de 2021, ele decide sair do Brasil Grime Show e fundar a Leigo Records — que a princípio seria uma lojinha de discos, mas ele acabou juntando com outros artistas.
Aí vem o KBrum, que também tinha saído do Brasil Grime Show, o Maui, o Chediak, o NMS, o Enigma, várias pessoas ali que estavam no entorno, e a gente começou a trabalhar junto, pela internet. Nesse final de 2021, a gente marcou de maluco uma viagem pra Salvador, que foi meio que o marco de quando eu voltei a trabalhar com o Antônio e quando eu entrei, de fato, pra Leigo Records.
Eu sempre fui esse cara da produção, da parte burocrática, da parte da grana, de contratação, de organizar a festa no dia. Como eu sempre corri do talento artístico, de tocar, de fazer música — apesar do meu irmão ser um músico incrível, eu sempre fugi — eu acabei caindo nessa parte de organização. Eu levo um jeito para essa parada de estar sempre em contato com as pessoas e desenrolar, negociar as coisas.
A gente viaja pra Salvador de carro, vai pra BH, vai pra São Paulo e daí eu assumo as produções da Leigo — essa produção executiva, artística, da Leigo Records, eu acabo assumindo ela no geral. Do Exportação também, que já era o evento que o Antônio tava começando, mais focado em grime. E daí eu começo a abrir meu leque com outras coisas — eu viro booker e produtor do KBrum, depois eu acabo virando booker do Chediak, da Jacquelone, eu assumo essa parte de booking e produção de todos os artistas ali da Leigo.



Datas da Exportação celebrando o grime brasileiro
E aí o Chediak conversa comigo sobre a ideia de fazer uma festa, e a gente cria a Speedtest em julho de 2022. Depois disso, a gente vai criando outros projetos — minha companheira Clara começou a cantar, então eu também sou produtor da Clara Ribeiro, tô trampando com ela agora nos lançamentos, desde a primeira música. Esses são meus principais selos — a Leigo Records, a Speedtest e a Banidos, que é um um selo menorzinho onde é só eu, a Clara e o Wander.
O Wander, que é fotógrafo e videomaker, ele tá comigo desde a época da Waves. Na segunda edição, a gente meio que obrigou ele a ser fotógrafo e ele ficou pra sempre. O Wander é meu melhor amigo, a gente mora no mesmo bairro, na mesma rua, a vida inteira, e somos amigos há 15 anos.
Depois surgiram outras festas — a Melodyne com o Maui, a Grossbeat com o Taleko, e hoje eu faço parte também da produção do Jamaicaxias, do KBrum e da Isa —, e assim, eu trabalho e tento pegar dinheiro de onde der. De tudo que eu puder me envolver nessa cena artística, eu me envolvo, e tento fazer esse trabalho acontecer.
Então tudo começou lá na Waves. Quando foi isso?
A primeira Waves foi em novembro de 2015 e ela terminou em novembro de 2017. A cena do Rio de Janeiro tinha muita coisa boa acontecendo nessa época — tinha Doom, tinha Wobble, Brook, Puff Puff Bass, eram muitas festas de bass music — e o Antônio começou a frequentar muito.
Eu ia em uma ou outra, mas eu nunca gostei muito de sair — porque a gente é da Baixada, e pra ir para o centro do Rio, zona sul, só de condução é uma hora pelo menos, né? Duas, três conduções, dependendo de onde você mora. Eu não achava que era válido ir pra lá pra curtir essas festas, então preferia sair pra ver hardcore, e isso sempre teve em Caxias. Era uma vontade própria mesmo, eu não curtia muito ir pra isso porque eu queria ir ver rock.
Essa influência acabou crescendo maior com o Antônio, e junto da Waves, ele decide virar DJ, e a gente decidiu que talvez funcionasse fazer a nossa festa de bass music na Baixada. Existiam alguns movimentos acontecendo aqui que também influenciaram a gente — Egrégora, que era mais da rapaziada do rap de batalha, tinha as rodas de rima no geral, tinha o pessoal da Dope em São João de Miriti que nasceu mais ou menos junto.
A gente fez a Waves nessa vontade de fazer um evento parecido com os eventos do Rio, na Baixada, e acabou funcionando porque não tinha em Caxias. A gente acabou pegando um público que ia pra lá e criou o nosso público aqui, que nem conhecia as festas de lá, mas passou a conhecer a Waves.
A gente criou um público muito fiel, muito grande — a parada cresceu e a moeda de troca não era nem grana. Todos esses artistas que eu falei, por exemplo, eles vinham tocar em Caxias porque eles queriam tocar em Caxias e não porque eles iam ganhar dinheiro, porque o dinheiro era pouco, mas o público era muito bom.
O Nectar Gang veio na parceria com a gente, o BK tava na época lançando Castelos e Ruínas, então a parada estava crescendo. O Maffalda veio de São Paulo também porque achou maneira a proposta, e vários outros artistas. A Waves tinha essa parada — era atrativo pela diversão de estar aqui, de estar num lugar diferente.

Me dá a impressão que a Waves é esse ponto inicial que se desdobrou em todas as festas e os projetos que você e o pessoal da Leigo estão envolvidos hoje em dia. Faz sentido?
A Waves é a construção, minha e do ANTCONSTANTINO — ele como artista e eu como produtor — e da gente como dupla. Dupla não, eu vou dizer trio, porque tem o Wander aí nesse bolo. A gente criava as ideias das artes juntos, fazia festa juntos, cada um no seu. E aí tinha o Kawaii que fazia as artes pra gente nessa época e faz até hoje — eu e o Antônio, a gente pensava no conceito da festa, o Kawaii ajudava a gente a botar isso na arte e o Wander ajudava a gente com as fotos.
Ali foi o ponto inicial pra todos nós — o Wander começa a construir a identidade dele, o Antônio começa os primeiros passos como artista, eu como produtor, o Kawai como artista visual — foi onde a gente basicamente aprendeu a trabalhar, tá ligado? É óbvio que eu tinha a influência da Tomarock, do Luciano Paz, que me ensinou muita coisa de produção, mas a minha parada, o meu evento, começa ali na Waves. A Waves se desdobrou em várias coisas.
Desde a fase do hardcore, acho que o que a gente mais aprendeu na nossa vida é o trabalho coletivo, trabalho em comunidade. A gente só aprendeu, basicamente, a reunir as pessoas certas, no lugar certo. E que o trabalho não tem que ter um líder, a gente só precisa ter essa comunidade, esse trabalho em conjunto.
É o que a gente faz, é o que eu faço — eu sou a pessoa que consegue, simplesmente, unir as pessoas certas. Óbvio que eu tenho a minha responsabilidade por ser o produtor, por ser quem faz os pagamentos, essa burocracia é chata. Mas no fim das contas é basicamente convencer todo mundo a trabalhar junto.
Por isso, você vai ver que todos esses coletivos, são vários nomes, mas são as mesmas pessoas envolvidas. O que faz a parada acontecer é isso — a gente aprendeu a trabalhar assim. Por isso eu falo que a gente é operário da música. Porque a gente não é patrão e funcionário, a gente é operário, todo mundo tá de igual para igual, tá ligado?

E deve ser bastante desgastante, se entregar tanto assim.
É complicado, né? Porque exige um trabalho complexo. Primeiro porque a gente sobrevive no underground, e financeiramente isso já não é muito tranquilo — eu tava aqui fazendo a conta dos eventos do final de semana passado pra já pagar os da semana que vem, pra saber se a gente vai ter dinheiro pro próximo.
É desgastante, principalmente por conta dessa parte financeira, que acaba atrapalhando todo o resto. Porque se a gente não tem dinheiro, a estrutura do evento é pior, a logística é pior, a alimentação é pior, e tudo isso vai escalonando, a gente tem que fazer tudo por nós mesmos. Muitas vezes a gente tem que fazer duas, três funções pra conseguir fazer a parada funcionar, então é difícil, é desgastante, mas eu acho que faz parte, tá ligado?
E novamente falando sobre o lance da cena hardcore, eu aprendi que alguém tem que fazer essa parada, alguém tem que estar aqui no underground fazendo funcionar, porque senão a gente não tem o underground, né?
É difícil. Eu tento tomar algumas coisas só pra mim, pra tentar aliviar o trabalho dos outros. Porque eu acho, também, que tem que ter alguém como eu trabalhando para que o ANTCONSTANTINO, a Clara Ribeiro, o Chediak, façam um bom trabalho.
Eu acho que faz parte mesmo. Eu nasci nesse meio, e acho que eu vou morrer nesse meio — não acredito que eu vou chegar num momento tranquilo da minha vida, tá ligado?

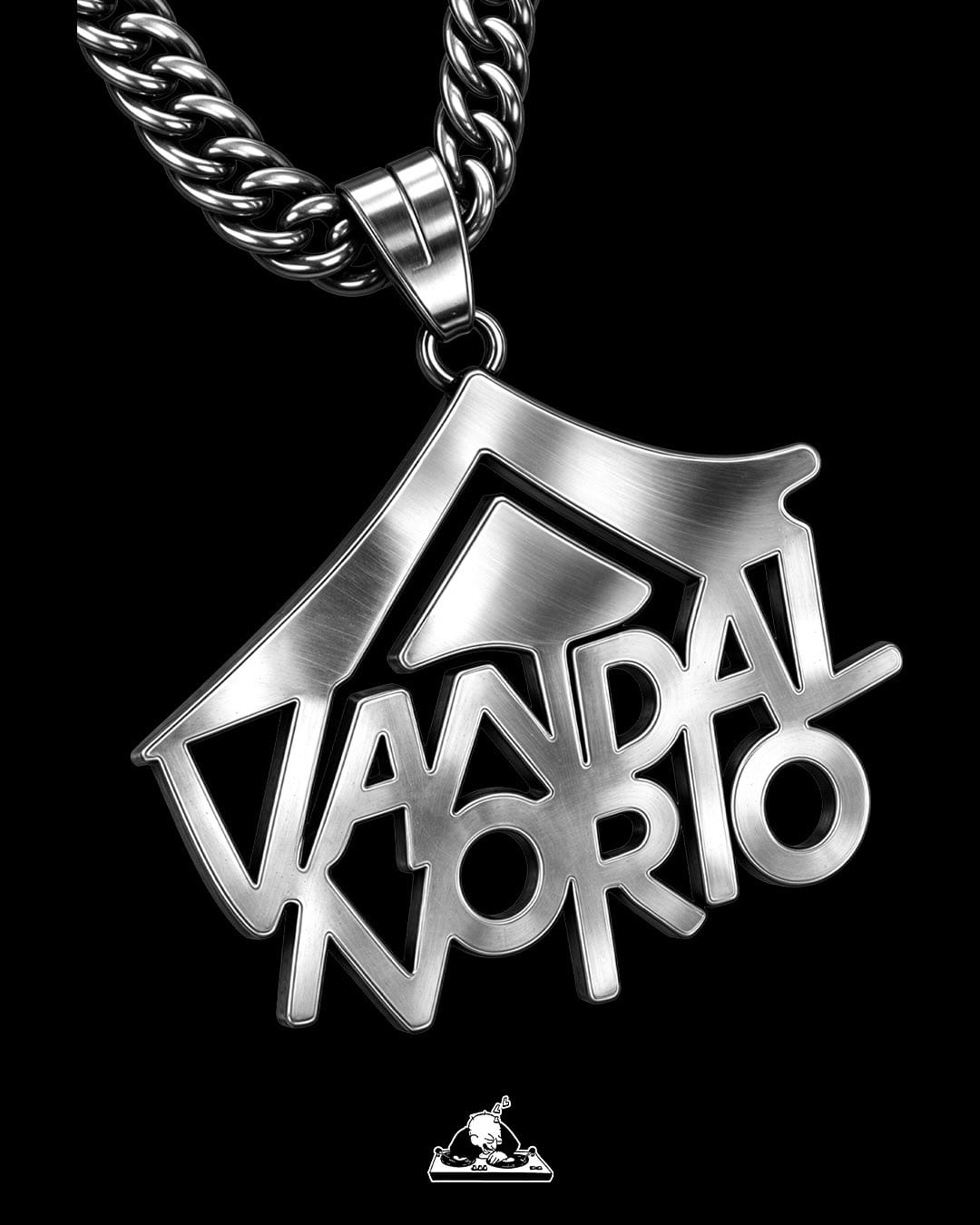

Na esquerda, primeira edição da Waves depois do encerramento em 2017, em 25 de outubro de 2024; A Waves retorna para celebrar a passagem de Vandal, em 16 de agosto de 2025
Um assunto que tá muito em alta nos últimos tempos é a dificuldade de organizar festas, muita gente fala que a noite "morreu", que todo mundo quer ser DJ e que ninguém quer dançar. Esses assuntos toda hora voltam, em algum texto dando opinião, né? Como você enxerga essas discussões, trabalhando todos os dias com isso?
Eu acho que quem é muito alarmista hoje, é quem não viveu ontem, tá ligado? Porque, cara, eu sou de Duque de Caxias, metade dos meus amigos que trabalham comigo hoje são de Duque de Caxias, e aqui é muito pior. Em São Paulo tá difícil, de fato, não é fácil, porque enfim — a gente vive no sistema capitalista, os donos das casas, do dinheiro, são poucas pessoas brancas, ricas, homens, né. Então é óbvio que eles não querem perder esse espaço deles, porém, em São Paulo, minimamente você tem as pessoas tocando, participando. Agora, por exemplo, você pergunta pro ANTCONSTANTINO quantas vezes ele tocou esse ano em Duque de Caxias?
O ANTCONSTANTINO é um DJ nacional super relevante, ele é de Duque de Caxias, e a gente não consegue fazer coisa aqui. Na época da Waves, a gente fazia, a gente movimentava 500/600 pessoas por festa, e conseguia trazer grandes DJs do cenário pra cá. A gente teve que criar o nosso, com vários problemas, pra conseguir fazer uma coisa. Porque a Waves foi um momento importantíssimo, mas tinha vários problemas por conta de estrutura e financeiro mesmo, tá ligado?
Hoje, pelo menos, a gente consegue acessar outros lugares. A gente consegue viajar, tocar em outros lugares, mas já foi um momento onde a gente não conseguia fazer nada. É óbvio que tá longe de ser perfeito, é óbvio que tá difícil. Mas eu acho que também existe um pessoal que quer chegar e fazer a parada acontecer de uma forma muito rápida e fácil, e não vai ser assim.
A gente vive num lugar onde quem tem dinheiro tem o acesso, e quem não tem, tem que correr atrás do acesso, né? Poderia ser melhor, mas nunca vai ser bom. Mas já foi muito pior — teve uma época aqui onde só uma bolha conseguia fazer coisas no Rio de Janeiro, e o pessoal da Baixada, da zona oeste, não conseguiam acessar esses lugares. Hoje, você ainda consegue fazer um evento no centro do Rio — com dificuldades — mas isso existe.
É óbvio que ainda tem esse bando de playboy, que não quer deixar a gente alcançar o espaço deles, não quer deixar a gente tocar e ganhar o cachê que eles ganham, mas vai ser sempre assim. A gente tem que batalhar pra quebrar essa bolha e acessar lá, e eu acho que isso só resolve com trabalho, com correria — porque não vai chegar fácil, esses caras não vão abrir mão do que eles têm, eles não vão convidar a gente pra sentar na mesa deles. Se a gente ficar só fazendo texto, eles vão compartilhar esse texto, eles vão falar que concordam e vão continuar com o dinheiro.
Então existe uma dificuldade de viver disso, de fazer isso. Mas hoje, eu, um jovem de Duque de Caxias, consigo sair e fazer um evento em Pinheiros — com todas as dificuldades que ocorrem, mas eu consigo, e eu vejo gente mais nova do que eu, que tá começando agora, que consegue fazer. Tem um pessoal de Caxias, de uma festa que surgiu recentemente, que é a Hausu, que tem o Levas, um menino que ia pra Waves com a gente, e fizeram uma festa na Praça XV, bem no centro do Rio de Janeiro.
Na nossa época a gente não conseguia fazer isso, então eu acho que tem que fazer igual eles estão fazendo, sabe? E aí tem vários outros exemplos — tem o pessoal da Nação Rebolation, tem o pessoal da Orphans Club. Eu acho que tem que ser assim, tem que ir, tem que fazer, tem que botar a cara, porque senão a gente vai ficar só conversando com os caras e não acessando, de fato, o espaço deles.

A Speedtest é um caso curioso, porque vocês conseguem fazer uma festa muito boa, explorando uma vastidade de gêneros e criando uma comunidade muito consciente, respeitosa. Como vocês constroem o projeto?
A Speedtest nasceu assim no “vamos fazer”. O Chediak comentou na internet que queria fazer uma festa, eu chamei e falei: “mano, vamos fazer. O que pode acontecer é dar errado, e aí tudo bem, dá errado, a gente resolve depois”.
Começou assim, e a gente tentou levar a Speedtest pra um caminho de crescimento, de transformar numa festa gigantesca e a gente só quebrou a cara. Por falta de verba, por não saber fazer e a gente deu um passo atrás, mudou a forma de fazer e acabou construindo um público junto com isso.
Eu postei no Twitter que a Speedtest é cult e eu considero ela uma festa cult. A gente tem um público menor do que outras que surgiram ao mesmo tempo, ou são de segmentos parecidos, mas o nosso público é muito fiel e muito “educado” pra estar na Speedtest.
A última que teve no Coffeshop, lá em Pinheiros, não era pra acontecer lá. A gente teve que mudar de última hora, e o público comum de Pinheiros estava chegando na festa e indo embora cedo, porque não tava entendendo muito bem a parada. Então eu acho que a gente criou um público muito fiel à gente, que gosta muito do que a gente faz, da nossa curadoria, do produto que a gente vende de música na internet. É um público nichado, pequeno, mas fiel demais à gente, igual um público de um filme cult mesmo, sabe?
A gente parou de passar perrengue, de quebrar a cara. A gente tá bem confortável agora. Foi dar um passo atrás — entender que a gente é pequeno, entender que a gente tinha vários defeitos, que a gente não sabia o que tava fazendo — e estudar, reorganizar a cabeça, reorganizar a festa, e aí deu certo.






Em 2023, rolou uma collab da Speedtest com o Marcelinho da Lua, gerando remixes do Antônio e do Chediak na edição de 20 anos de Tranqüilo!. Em 2025, a primeira euro tour do projeto.
Depois de todos esses anos trabalhando com o underground, você diria que encontrou uma fórmula pra lidar com todas essas questões?
Cara, eu não sei se existe a fórmula, mas é o que eu já falei ali no começo — o jeito certo de fazer é coletivamente. É, de fato, um jeito coletivo de trabalhar. A gente não trabalha muito com contratação, a gente trabalha muito com parceria — principalmente com as casas, contratantes —, a gente faz muita collab com outros selos.
Os DJs que tocam com a gente, a gente conversa muito com essas pessoas, pra conseguir trazer essa pessoa pra participar da festa muito por uma vontade dela, e não porque a gente tá oferecendo um cachê alto, sabe?
A gente tem uma rede muito forte de pessoas que estão dispostas a trabalhar com a gente, independente do quanto isso vai render de dinheiro, ou sucesso, o que for. Essas pessoas tão aqui pra fazer arte mesmo, pra fazer a parada funcionar. Hoje a gente tem um leque de pessoas que a gente consegue chamar pra trampar, pra participar, e eu sei que são pessoas que vão de olhos fechados, que confiam na gente e gostam do nosso trabalho, sabe? E isso acaba trazendo mais gente sempre no futuro.
A gente tá sempre renovando as pessoas que trabalham com a gente por conta disso, pelo jeito como a gente trabalha. As pessoas sabem que a gente trabalha de forma coletiva. A gente não é de pisar na cabeça dos outros, de passar por cima dos outros, de colocar o dinheiro acima da parada.
A gente cria um laço com muita gente, um laço importante, um laço legal, de parceria, mesmo que não sejamos propriamente amigos, mas a gente é parceiro de trabalho. Um ajuda o outro, que é o lance lá do hardcore, né? Na cena de hardcore é assim, e funciona até hoje. A gente tenta puxar um pouquinho disso pra gente.

Acompanhe o trabalho de Diogo Queiroz, operário da musica, produtor e booker na Leigo Records, na Speedtest, no Jamaicaxias, na Banidos e na Discos Flutuantes.

